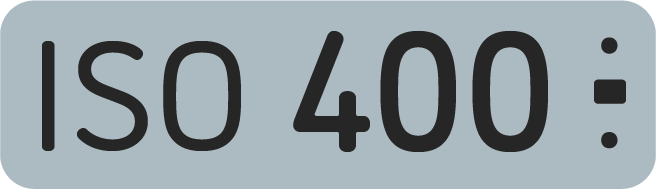Um ano depois do chão abrir
Entre escombros, fé e sobreviventes, Antônio Costa e Helena Carnieri visitaram o cenário da tragédia depois do maior desastre natural da história do Haiti

Às 16h53 de uma quinta-feira, o Haiti tremeu como se o chão tivesse decidido se desfazer. O terremoto de magnitude 7.0 na escala Richter durou poucos segundos, mas foi suficiente para arrasar Porto Príncipe e outras regiões do país. Era o fim da tarde do dia 12 de janeiro de 2010. O epicentro estava a cerca de 25 quilômetros da capital, a apenas 10 quilômetros de profundidade. Prédios desabaram, ruas desapareceram sob escombros, igrejas ruíram. O saldo foi devastador: cerca de 230 mil mortos, 1,5 milhão de desabrigados, um país inteiro lançado ao colapso. Entre as vítimas estavam a médica Zilda Arns, fundadora da Pastoral da Criança, 18 militares do Exército do Brasil que participavam da missão de paz da ONU e outros três brasileiros.
O Haiti já era o país mais pobre das Américas. Depois daquele fim de tarde, passou a ser também um território de luto permanente. Um ano depois, em janeiro de 2011, quando a tragédia haitiana já havia se afastado das manchetes, a pergunta que restava era: o que havia sobrado?


Foi para tentar responder a essa pergunta que o fotógrafo Antônio Costa, o Socózinho, e a repórter Helena Carnieri desembarcaram em Porto Príncipe para uma série especial de reportagens para o jornal Gazeta do Povo. Não era uma cobertura do impacto imediato da tragédia, mas daquilo que costuma ficar invisível quando o tempo passa: a vida depois do desastre.
O Haiti daquele janeiro ainda era um país em estado de suspensão. O cheiro da decomposição persistia em alguns pontos da cidade. Corpos haviam ficado soterrados sob escombros por meses. Em praças e terrenos baldios, famílias inteiras viviam em barracas improvisadas, sem saneamento, sem água potável, sem eletricidade. O lixo se acumulava. A infraestrutura seguia colapsada.



Desde 2004, o país abrigava a Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti, a MINUSTAH, chefiada pelo Brasil e composta por militares de outros 17 países. Após o terremoto, o contingente brasileiro atuou no resgate de vítimas, na distribuição de mantimentos e na assistência médica. O Exército Brasileiro estendeu sua presença até 2017, numa intervenção bastante controversa, .... Em 2011, a missão ainda era um dos poucos pilares de alguma ordem possível.


Socózinho e Helena ficaram cerca de uma semana no país, hospedados na base do Exército Brasileiro. Dormiam em contêineres climatizados, com refeitório e rotina militar organizada. Dentro da base, era possível esquecer por alguns momentos a devastação do lado de fora. Bastava cruzar o portão para que a realidade se impusesse de novo.
A pauta central da viagem era revisitar a morte de Zilda Arns, que havia ido ao Haiti em missão humanitária e morreu dentro de uma igreja, atingida pelos escombros. Segundo relatos, ela havia pedido aos soldados que a acompanhavam que aguardassem do lado de fora após a missa. Segundos depois, o terremoto atingiu o templo. A igreja estava em ruínas um ano depois. Apenas a imagem do Cristo na cruz ainda tinha restado em pé.

Além da agenda oficial, a dupla buscava algo mais difícil de capturar: o cotidiano. O Exército impunha restrições à circulação de jornalistas, alegando razões de segurança. Circular apenas com patrulhas militares significava, na prática, não conseguir ouvir ninguém. A solução foi contratar um guia local. Para sair da base, foi necessário assinar termos de responsabilidade. O risco era conhecido.



Com o guia, um motorista e a fluência de Helena em francês, além do crioulo falado pelo intérprete, eles conseguiram acessar acampamentos, bairros destruídos, mercados improvisados e praias onde o azul do Caribe contrastava de forma quase ofensiva com a miséria ao redor. Turistas não existiam. Havia militares, missionários, funcionários da ONU e jornalistas.
Socózinho fotografava com uma Canon EOS 1D, equipada com lentes 16-35 mm, 24-70 mm e 70-200 mm. Tudo em arquivo bruto. O cuidado técnico era também uma forma de respeito. Para ele, aquelas imagens precisavam durar. E duraram. São mais de 1.400 fotografias guardadas até hoje.
O trabalho exigia cautela. Em uma praça onde famílias viviam em barracas, um homem se aproximou irritado ao perceber a câmera. A desconfiança não era gratuita. Haitianos estavam cansados de ver sua miséria explorada por estrangeiros sem que nada mudasse. A tensão se dissipou quando outros moradores intervieram, explicando que eram brasileiros. O Brasil, ali, ainda despertava algum tipo de empatia.





Helena conduzia as conversas com paciência. O método era simples: ouvir antes de fotografar. Ganhar confiança. Entrar nas casas improvisadas, onde o calor chegava a 40 graus, observar como as pessoas conseguiam água, como cozinhavam, como lavavam roupas. Em meio ao lixo acumulado, chamava a atenção a limpeza das vestimentas, as cores vivas, a dignidade preservada nos detalhes.


Em um dos acampamentos, uma mulher grávida revelou não ter pensado sequer no nome do filho que estava para nascer. A desesperança era tamanha que a pergunta parecia deslocada. “Não sei. Diga você o nome”. Helena sugeriu “Graça”. A palavra ficou no ar, suspensa entre o improvável e o necessário.
A presença estrangeira, no entanto, também era fonte de ressentimento. Tropas da ONU haviam sido responsabilizadas pela introdução da cólera no país, agravando ainda mais a crise sanitária. Ninguém vê com bons olhos soldados estrangeiros ocupando seu território, ainda que sob a bandeira da ajuda humanitária.


À noite, não havia circulação. A iluminação era precária, a violência, latente. O próprio guia se recusava a sair depois de escurecer. Em um retorno tardio, passando próximo ao aeroporto, Socózinho preferiu não parar para fotografar uma aglomeração política. Jornalismo também é saber quando não apertar o disparador.
Entre ruínas e histórias, havia cenas inesperadas. Jovens namorados em um carro simples, música tocando no rádio, o mar ao fundo. Uma praia de águas transparentes, onde pequenos empreendedores tentavam sobreviver oferecendo serviços a quem passasse. Em outra ponta da cidade, cultos evangélicos cresciam, transformando práticas religiosas tradicionais como o vodu, muitas vezes demonizado.



A comunicação com o Brasil era precária. O fuso horário jogava contra. A internet dependia da estrutura militar. Pouco do material produzido conseguiu ser enviado em tempo real. O foco acabou sendo Zilda Arns, símbolo da tragédia e da ligação do Paraná com o Haiti. Muito ficou de fora.
Ainda assim, a experiência marcou os dois. Helena lembra que, apesar do medo inicial e das advertências, nunca se sentiu em risco. Percebeu, sobretudo, o peso da precariedade e da injustiça histórica. Socózinho guarda as imagens como um arquivo de memória e frustração. Ainda hoje o Haiti segue imerso em crises políticas, sociais e humanitárias. Pouco mudou.


Um ano depois do chão abrir, o Haiti tentava continuar existindo. Entre barracas, escombros e fé, a vida insistia. Foi isso que a reportagem buscou mostrar. Não o instante da catástrofe, mas o que permanece quando as câmeras do mundo já foram embora.